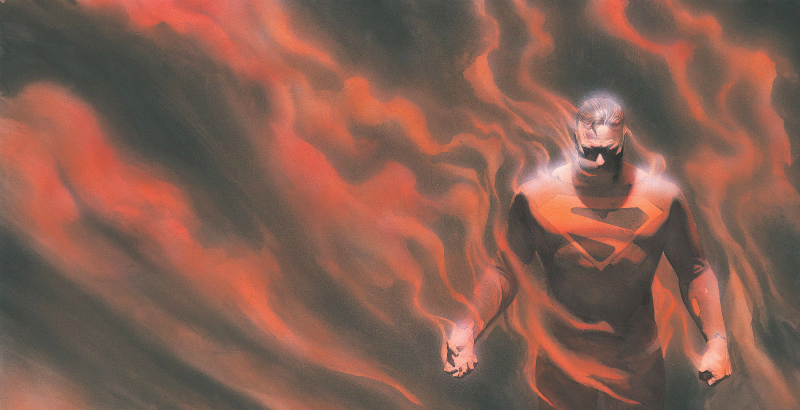(Este texto é uma republicação de um conto que publiquei no Wattpad há alguns anos, caso eu venha a deletar minha conta de lá)
Espártaco levantou-se, a água pingando do queixo quadrado, grossas gotas ainda presas em concavidades e antigas cicatrizes marcadas no rosto áspero por anos de uma existência violenta. Quantos anos? Não sabia. Há quanto tempo ausentara-se da Trácia? Não se lembrava. Essas coisas não eram importantes, de todo modo. Enxugou o rosto em um pedaço de pano oferecido pelo pajem. Tinha pajens, agora, o escravo revoltoso. Seguiam-no de bom grado, ainda que a revolução caminhasse para um desfecho terrível. Comandava quinze mil homens. Vinte mil, talvez. E pensar que, há quase três anos, saíra de Cápua com setenta outros escravos, revoltosos como ele, cansados das crueldades e dos desmandos de Batiato.
Ouvia o vento que soprava sobre a planície às margens do Sele, onde seu grupo acampava. Via as tochas e os fogareiros agonizantes entre as barracas de seus companheiros. Não era um exército, apesar de, no decurso da revolução, terem vencido cinco Legiões em confronto direto. Mas Crasso cercava-os agora. Comandava seu próprio exército, além do que restava das Legiões consulares, soldados previamente derrotados pelos escravos, ansiosos por vingança. O sol despontava sobre as colinas da Lucania. Lúgubre, Espártaco estremeceu.
Não havia nada a fazer além de aguardar, afinal. Ele sabia que os homens de Crasso construíam uma trincheira ao norte, mas vinha evitando as escaramuças. Seu próximo ataque deveria ser direto, visando o coração do exército inimigo. Derrotar apenas agrupamentos não seria eficaz, já que os números invertiam-se: cinquenta mil soldados inimigos, quase três para cada homem de seu exército. Preocupava-se. Mas estava cansado. Passara a noite em vigília, em companhia às sentinelas. Foi até sua barraca, decidido a dormir um pouco.
O sono veio, manso e suave, sem sonhos ou agitações de qualquer ordem. Então despertou com alguém que o chamava, tocando-o levemente no ombro.
— Senhor. Senhor. – reconheceu a voz do pajem. Abriu os olhos, ergueu-se, de má-vontade.
— O que é, Claudius?
— Soldados romanos, senhor. Aproximando-se ao norte.
A informação foi o bastante. Espártaco saltou de seu catre, amarrando o cinturão da bainha e disparando ordens contra o ajudante.
— Rápido, Claudius, ajude-me a vestir minha armadura.
O jovem, também sem perder tempo, aproximou-se e ajudou seu senhor a amarrar as tiras de couro que ligavam as duas placas de bronze destinadas a proteger o peito e as costas do combatente. O bronze estava fosco e, aqui e ali, ainda exibia manchas de sangue que resistiram às sessões de limpeza à base de areia e azeite.
O gládio seguro na cintura, a loriga firmemente presa ao torso, o ex-gladiador abandonou a tenda e encaminhou-se ao limite do acampamento. Muitos homens já estavam lá; outros, ouvindo os gritos de alarme, dirigiam-se à posição de batalha. Alguns reduziram o passo a fim de acompanhar seu general. As fileiras se abriram para permitir a passagem de Espártaco, seus homens bateram espadas em escudos em comemoração à chegada do líder. O Trácio não disse nada. Acenou brevemente para seus companheiros, virou-se para medir as forças inimigas. Uma Legião se aproximava, tomava todo o amplo vale à frente. Milhares de homens. Estimou pelo menos quarenta mil. Seria uma batalha difícil…
Um cavaleiro se adiantou das fileiras romanas. Vinha com as mãos erguidas, em demonstração de paz. Espártaco caminhou à frente, o homem a cavalo chegou até ele.
— Venho da parte de Cneu Pompeu Magno. Ele gostaria de falar com o líder deste exército. – mediu o homem que o falava. Era um pajem, também, via-se pelo porte e pelos modos.
— O que o grande Pompeu tem a tratar com um simples escravo revoltoso?
— Isso eu não saberia dizer, senhor. Ele apenas me pediu para trazer a mensagem.
Espártaco ponderou por um instante. Decidiu aceitar.
— Pois diga a ele que venha. Será bem-recebido.
Pompeu adentrou a tenda à qual foi conduzido. Sua armadura era preta, fosca, finamente trabalhada. Trazia na mão uma gálea de prata, com bordas de ouro e encimada por penachos azuis. Em sua cintura pendia uma bainha de couro escuro, pontilhada por rubis e safiras. Vinham, com ele, dois Legionários portando lorigas brilhantes, invejavelmente polidas. Sentaram-se, tendo o líder ao meio.
— É uma satisfação conhecê-lo, Espártaco.
— Digo o mesmo, grande Pompeu, mesmo sabendo que estamos de lados opostos desta guerra.
— Pois era essa a questão que eu gostaria de discutir com você.
— Se seu plano é pedir por rendição, adianto que não nos renderemos. Morreremos livres ou morreremos lutando.
— É aí que você se engana, meu caro: não vim aqui solicitar rendição. Vim aqui pedir autorização para juntar a força de minhas Legiões ao seu exército.
Espártaco hesitou por um instante. Teria ouvido corretamente? Pompeu, o Grande, após vencer a guerra na Hispânia, oferecia suas tropas? Pretendia juntar-se a ele?
— Juntar-se a nós?
— Exatamente.
O Trácio permaneceu em silêncio por algum tempo. Pompeu continuou.
— Entendo suas ressalvas. Minha iniciativa de juntar-me a você pode parecer algum tipo de estratagema do Império para acabar com sua revolta por dentro, mas não existe razão para esse tipo de artimanha. Primeiro porque já está muito claro para mim – e, acredito, para você também – que nossas Legiões são mais numerosas do que seu exército. Somos, juntando as tropas de Crasso, as Legiões Consulares e minhas Legiões, quase cem mil soldados. Vocês são, quando muito, quarenta mil. Não há necessidade para ardis quando poderíamos apenas marchar até aqui e esmagá-los. – tal manifestação de força levou Espártaco a franzir o cenho. Pompeu mudou a direção do discurso, a fim de tranquilizá-lo:
— O que eu quero, e o ponto no qual concordamos, e que me traz até aqui hoje, é lutar por uma Roma livre. Uma sociedade na qual não haja escravos. Sou, como você, a favor da igualdade entre os homens. Além do mais, não concordo com Crasso, com suas ideias e com seus métodos. Eu jamais lutaria ao lado de um homem de quem discordo essencialmente, e contra uma causa que me parece justa. Estamos do mesmo lado, portanto. Aceite minha ajuda. Seria uma honra para mim.
O ex-escravo coçou o rosto, sobre o qual a barba se anunciava, insipiente. Sua voz veio permeada de desprezo.
— Grande Pompeu, você já foi um escravo?
— Nunca.
— Já esteve aprisionado, acorrentado, já foi considerado menos do que um homem, tratado como uma criança… não, menos ainda: como um animal, como algo desprovido de vontade ou de razão?
— Não, nunca passei por isso.
— Sempre foste, tu, ó, Grande Pompeu, respeitado sendo quem é, ouvido e considerado entre teus pares.
— Sempre, e não há razão para ser irônico. Além do mais, minha posição confortável não me impede de reconhecer uma injustiça, e reconheço a injustiça que é a posição de escravo. Um homem não devia precisar prostrar-se diante de outro.
— Mas você nunca teve que se prostrar diante de ninguém.
— Não, não tive.
— Você é um dos opressores, então, nunca um oprimido.
— E o que isso tem a ver?
— Tem a ver que você, do alto de seus privilégios, vem até aqui, até um grupo de escravos, se oferecer para nos ajudar. Pretende o quê? Ser nosso igual?
— Não! Minha ideia é que vocês sejam meus iguais!
— Ah, porque agora você é melhor do que a gente?
— Espártaco, do que você está falando, afinal? Você tem um objetivo: a libertação dos oprimidos. Eu estou aqui com os meios para te ajudar a atingir seu objetivo. Por que, de repente, sou seu inimigo, e não seu aliado?
— O que você quer é tomar posse do nosso movimento!
— Não quero “tomar posse”, quero ser parte do seu movimento.
Levantando-se, Espártaco chutou uma ânfora que repousava a seu lado.
— O que você quer, seu opressor maldito, é roubar nosso protagonismo!
Pompeu permaneceu calado, boquiaberto diante da atitude de seu interlocutor. Um dos Legionários interveio, dirigindo-se ao Trácio.
— Comandante, eu já fui um escravo. O General Pompeu me libertou. Ele é um homem bom e justo! Ouça-o!
— Oh, o Grande Pompeu! Vamos todos idolatrar e nos curvar diante do maravilhoso Cidadão Romano que não faz mais do que a sua obrigação ao libertar um escravo de seus grilhões!
Visivelmente decepcionado, Pompeu levantou-se, por fim.
— Você, então, recusa minha ajuda?
— Mas ainda não ficou claro? Você pode ser um dos nossos aliados, nunca um dos protagonistas do nosso movimento!
— Espártaco, isso não faz o menor sentido…
— Ah, vai chorar, agora? Eu tomo banho nas suas lágrimas de cidadão romano!
— Qual a necessidade disso?
— Oh, coitadinho do cidadão romano, oprimido pelo escravo mau!
— Tudo bem, Espártaco. Que assim seja. Não tomarei parte na batalha. Não lutarei a seu lado, porque você não deseja minha ajuda. E não lutarei ao lado de Crasso, pois considero-o um crápula. Boa sorte com sua revolução. Julius, Tiberius, vamos embora. Argumentar aqui é impossível!
Com um aceno, Pompeu deixou a tenda, seguido por seus dois soldados. Espártaco permaneceu onde estava, resmungando.
— Onde já se viu, um Cidadão Romano, pleno de direitos, querendo se unir ao nosso movimento. Querendo roubar nosso movimento, querendo fazer parte…
Dois dias depois, Espártaco e seus homens foram massacrados pelas tropas de Crasso.